Drogas maravilhosas

O custo cada vez mais elevado, traduzido na dificuldade crescente de acessibilidade às novas substâncias, obriga a sustentar as decisões sobre esta matéria em critérios rigorosos de molde a assegurar a sua utilização o mais equitativa possível (avaliação económica).
«A razão fundamental para adoptar esta abordagem é a percepção de que os benefícios incrementais dos novos instrumentos terapêuticos aumentam a taxas decrescentes enquanto os seus preços aumentam a um ritmo crescente, questionando-se então se o mercado valoriza adequadamente os benefícios associados ao seu consumo.
A avaliação económica surgiu, assim, como um exercício de cálculo de uma espécie de preço alternativo – o preço sombra. Com efeito, se o mercado não conseguia valorizar aqueles benefícios, então o que era apresentado pelos produtores como preço dos bens não era mais que um custo. Para passar do custo ao preço era necessário simular o funcionamento do mercado calculando custos e consequências incrementais associados às alternativas terapêuticas.
As razões geralmente apontadas para este facto são conhecidas. Com efeito, na presença de externalidades e assimetrias de informação e existindo preocupações fortes com o acesso universal aos cuidados de saúde, o funcionamento livre do mercado não promove a afectação eficiente dos recursos uma vez que não permite determinar o valor privado nem, em especial, o valor social dos bens.
Acresce que o mercado apenas admite a comparação de valorizações monetárias referidas ao curto prazo enquanto à decisão de compra de cuidados é geralmente associado como objectivo último o incremento da Saúde, o que muitas vezes só é enquadrável no longo prazo.» (Hurley, 2000), Carlos Gouveia Pinto, ISEG, 10.ª conferência de Economia saúde
Apesar disso, ou em resultado disso, são inúmeros os problemas que se deparam às administrações dos sistemas de saúde resultantes da dificuldade de acesso dos cidadãos aos novos medicamentos que amiúde transvazam para os meios de comunicação social.
Em Portugal tivemos recentemente o caso da queixa de um clínico à OM sobre a recusa da comissão de farmácia e terapêutica do seu hospital em prescrever um medicamento inovador (tarceva (erlotinib) a um doente com cancro. link Seguida da reacção pronta do bastonário, Pedro Nunes, como é seu timbre, a criticar o Ministério da Saúde sobre as medidas “restritivas” de acesso dos hospitais a medicamentos inovadores. link
No RU foi polémica o caso de Ann Marie Rogers link que viu recusado pelo tribunal de Londres o seu pedido de condenação do Serviço Nacional de Saúde (NHS), relativamente ao fornecimento do medicamento Herceptin (DCI: trastuzumab) (que não tinha indicação terapêutica para a situação clínica desta utente). Na decisão do juiz terá pesado a constatação que a recusa de acesso ao Herceptin, por parte do serviço de saúde público inglês, teve por base critérios de racionalização económica (custo efectividade).
Prestes a comemorar 60 anos, nova polémica assola o NHS relacionada com o acesso aos novos medicamentos. Linda O'Boyle, uma utente de 64 anos de idade com cancro do intestino, a quem foi recusado tratamento após ter decidido pagar do seu bolso a aquisição de um medicamento (cetuximab) não aprovado pelo NHS, em cumprimento de uma lei que, (o secretário de estado da saúde, Alan Johnson, perante a pressão da opinião pública já prometeu rever (quanto a recuos, não é só o Sócrates), estabelece que os utentes têm de optar entre o tratamento do NHS e o regime privado, proibindo o tratamento em paralelo (utilização simultânea dos dois regimes : público e privado). link
Parece ter razão a opinião pública que considera esta regra de cruel por assentar no dogma que é preferível ver utentes morrer a dar-lhes um tratamento que nem todos podem ter acesso (reverso negativo da aplicação do principio da universalidade).
Tem interesse acompanhar este debate que envolve uma reflexão sobre as limitações do próprio sistema - a separação público/privado no NHS, tal como entre nós, remete para uma teia de delicadas relações – link e a crítica ao mercado dos novos medicamentos.
O essencial a retirar desta polémica, que a qualquer momento pode estalar entre nós com contornos mais ou menos semelhantes, prende-se com a necessidade de esclarecer os cidadãos sobre o alcance dos novos tratamentos, anunciados pelas multinacionais dos medicamentos como milagrosos, pois «o público merece protecção contra a falsa esperança das "drogas maravilhosas"» link
«A razão fundamental para adoptar esta abordagem é a percepção de que os benefícios incrementais dos novos instrumentos terapêuticos aumentam a taxas decrescentes enquanto os seus preços aumentam a um ritmo crescente, questionando-se então se o mercado valoriza adequadamente os benefícios associados ao seu consumo.
A avaliação económica surgiu, assim, como um exercício de cálculo de uma espécie de preço alternativo – o preço sombra. Com efeito, se o mercado não conseguia valorizar aqueles benefícios, então o que era apresentado pelos produtores como preço dos bens não era mais que um custo. Para passar do custo ao preço era necessário simular o funcionamento do mercado calculando custos e consequências incrementais associados às alternativas terapêuticas.
As razões geralmente apontadas para este facto são conhecidas. Com efeito, na presença de externalidades e assimetrias de informação e existindo preocupações fortes com o acesso universal aos cuidados de saúde, o funcionamento livre do mercado não promove a afectação eficiente dos recursos uma vez que não permite determinar o valor privado nem, em especial, o valor social dos bens.
Acresce que o mercado apenas admite a comparação de valorizações monetárias referidas ao curto prazo enquanto à decisão de compra de cuidados é geralmente associado como objectivo último o incremento da Saúde, o que muitas vezes só é enquadrável no longo prazo.» (Hurley, 2000), Carlos Gouveia Pinto, ISEG, 10.ª conferência de Economia saúde
Apesar disso, ou em resultado disso, são inúmeros os problemas que se deparam às administrações dos sistemas de saúde resultantes da dificuldade de acesso dos cidadãos aos novos medicamentos que amiúde transvazam para os meios de comunicação social.
Em Portugal tivemos recentemente o caso da queixa de um clínico à OM sobre a recusa da comissão de farmácia e terapêutica do seu hospital em prescrever um medicamento inovador (tarceva (erlotinib) a um doente com cancro. link Seguida da reacção pronta do bastonário, Pedro Nunes, como é seu timbre, a criticar o Ministério da Saúde sobre as medidas “restritivas” de acesso dos hospitais a medicamentos inovadores. link
No RU foi polémica o caso de Ann Marie Rogers link que viu recusado pelo tribunal de Londres o seu pedido de condenação do Serviço Nacional de Saúde (NHS), relativamente ao fornecimento do medicamento Herceptin (DCI: trastuzumab) (que não tinha indicação terapêutica para a situação clínica desta utente). Na decisão do juiz terá pesado a constatação que a recusa de acesso ao Herceptin, por parte do serviço de saúde público inglês, teve por base critérios de racionalização económica (custo efectividade).
Prestes a comemorar 60 anos, nova polémica assola o NHS relacionada com o acesso aos novos medicamentos. Linda O'Boyle, uma utente de 64 anos de idade com cancro do intestino, a quem foi recusado tratamento após ter decidido pagar do seu bolso a aquisição de um medicamento (cetuximab) não aprovado pelo NHS, em cumprimento de uma lei que, (o secretário de estado da saúde, Alan Johnson, perante a pressão da opinião pública já prometeu rever (quanto a recuos, não é só o Sócrates), estabelece que os utentes têm de optar entre o tratamento do NHS e o regime privado, proibindo o tratamento em paralelo (utilização simultânea dos dois regimes : público e privado). link
Parece ter razão a opinião pública que considera esta regra de cruel por assentar no dogma que é preferível ver utentes morrer a dar-lhes um tratamento que nem todos podem ter acesso (reverso negativo da aplicação do principio da universalidade).
Tem interesse acompanhar este debate que envolve uma reflexão sobre as limitações do próprio sistema - a separação público/privado no NHS, tal como entre nós, remete para uma teia de delicadas relações – link e a crítica ao mercado dos novos medicamentos.
O essencial a retirar desta polémica, que a qualquer momento pode estalar entre nós com contornos mais ou menos semelhantes, prende-se com a necessidade de esclarecer os cidadãos sobre o alcance dos novos tratamentos, anunciados pelas multinacionais dos medicamentos como milagrosos, pois «o público merece protecção contra a falsa esperança das "drogas maravilhosas"» link
Etiquetas: Medicamento
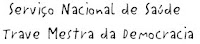

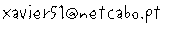





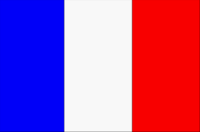
















7 Comments:
TARDE PIASTE...
INÊS É MORTA!
(ditado popular coimbrão)
A situação está a tomar um bom caminho.
Já não surpreende ninguém.
É o acertar do passo como liberalismo…
Os 2 casos referidos e que dizem respeito ao RU, mostram:
a) National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), organismo que em princípio deveria merecer a maior idoneidade no campo da avaliação das novas drogas e da inovação terapêutica, conseguiu ao nível científico um galopante descrédito;
b) O NHS, na sua “auto-suficiência” deixou de confrontar os resultados das suas avaliações com os da FDA;
c) O NHS, ao nível europeu, e na área oncológica, é um participante menor da European Organisation for Research and Treatment of Câncer (EORTC), `a custa do seu exacerbado nacionalismo;
d) O NICE, aparentemente foi tomado de assalto por critérios de racionalidade económica que eclipsam os clinicals trials, seus resultasdos e a seu desenvolvimento.
e) Ao reduzirem a casuística ao ambiente doméstico, comprometem a busca sobra a excelência (aliás a excelência deve ser pesada criteriosamente na área oncológica);
f) O caso Linda O'Boyle, aplicado a Portugal, não só na área oncológica mas nos cuidados médicos em geral, escorraçava do SNs quase 10% dos utentes (pocket costs).
Fora da área oncológica o trabalho do NICE enferma dos mesmos vícios.
Um medicamento sobejamente conhecido e testado - cloridrato de donepezilo (Aricept), utilizado no tratamento da doença. de Alzheimer (de gravidade moderada a média), mereceu o seguinte despacho da NICE:
“NICE said the drugs, which cost about £2.50 a day, did not make enough of a difference to recommend them for all patients and were not good value for money.”
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7347896.stm)
Espantoso!
Entretanto, terão sido recusados tratamentos em 96.600 portadores de doença de Alzheimer.
Em 2006, tentou emendar a mão…sob pressão judicial, e permitindo a sua utilização na a fase moderada da doença…
A sujeira estava feita em nome da racionalidade económica cujos avaliadores têm sido, segundo julgo, inimputáveis…
É evidente que o comentário do e-pá é reacionário, incoerente com muitas das posições desempoeiradas que aqui tem tomado.
Posso citar-lhe uma montanha de trabalhos que desmontam de uma penada a sua opinião sobre a forma de actuação do NICE.
Por agora, aconselho-o a ler o texto seguinte:
NICE's cost effectiveness threshold
How high should it be?
The recent judicial review instigated by the drug companies Pfizer and Eisai concerning National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) guidance,1 which would deny access to three drugs for patients with mild Alzheimer's disease, and a second ongoing inquiry into NICE by the House of Commons Health Select Committee,2 are the latest examples highlighting the importance of NICE and the challenges it faces. The judicial review, which ruled predominantly in favour of NICE, concerned the procedures NICE used to arrive at their judgment, not the outcome specifically. However, NICE has to make a judgment that is more fundamental than the matters at stake in the judicial review—at what point should an intervention be deemed cost effective enough to warrant public subsidy via the National Health Service (NHS)?
An advantage of the way in which the United Kingdom funds the NHS is that its patients do not have to judge whether or not the health benefits of their treatment are worth its costs. But someone, somehow, still has to grapple with the decision over the value that is placed on health.
This valuation lies at the heart of the work performed by NICE—which, since its inception in 1999, has adopted a cost effectiveness threshold range of £20 000 (29 500; $40 000) to £30 000 per quality adjusted life year (QALY) gained. NICE does not accept or reject healthcare technologies on cost effectiveness grounds alone,3 4 5 although it is undoubtedly a major deciding factor. But the uncomfortable truth is that NICE's threshold has no basis in either theory or evidence.
This is not a technical problem confined to the decisions made by NICE. That is just the tip of an iceberg of clinical, managerial, and policy decisions made daily in health care—decisions that, unlike those derived from NICE's transparent procedures, may not be based on an explicit threshold, or even consider cost effectiveness at all. Nevertheless, these decisions all imply that the value of the health benefits justify the costs—of the operation, the prescription, the new hospital, a reduction in waiting times, and so on.
The cost effectiveness threshold is emerging as a key factor in the House of Commons Health Select Committee inquiry into NICE, which has received evidence that the threshold may be too generous.2 6 If this suggestion is correct, the implications are profound. It means that NICE has recommended too many new technologies. It also means that when primary care trusts implement NICE's guidance, resources may be diverted from other healthcare services that are better value for money. By setting the hurdle too low (the cost per QALY threshold too high), NICE might be reducing the efficiency of the NHS. So, what should the threshold be?
Two approaches to setting a cost effectiveness threshold have been proposed.7 The first is to decide the worth or value of a QALY and set the NHS budget so that all health care is provided at a cost at or below that value. The second is to decide how much we wish to spend on the NHS, and let the value of a QALY emerge from the decisions made by NHS purchasers. If purchasers aim to maximise QALYs, and their budgets are set so that they can do so, these approaches converge. In practice these conditions are not met and there is currently no political or other mechanism to facilitate them. The danger is that purchasers are likely to make inconsistent decisions based on their variable, and often implicit, valuations of health gain.
Evidence suggests a mismatch between NICE's threshold range and that apparent elsewhere in the NHS. The average primary care trust spends £12 000 to gain an extra QALY in circulatory disease and £19 000 in cancer.8 In contrast, an analysis of NICE's decisions suggests that its threshold is in practice even more generous than NICE admits, being closer to £45 000.4
Why should NICE be required to set and defend what is an NHS wide cost effectiveness threshold? The factors that should determine this threshold—such as society's willingness to pay for health improvements, the size of the NHS budget, the level of health sector inflation, and the discount rate used for future costs and benefits—are beyond NICE's control. Moreover, as these factors are not constant the problem of thresholds can never be resolved. This means NICE has to keep the threshold constantly under review, although its main business and expertise is in appraising health technologies and producing guidelines.
In 1997, Gordon Brown (then chancellor) gave the Bank of England operational independence from the treasury so that it could set UK interest rates to contain inflation. It does this via its Monetary Policy Committee, which consists of bank officials and independent members. The NHS could be given similar independence from the Department of Health on the specific matter of setting a cost effectiveness threshold. The NHS should have a threshold committee with a similar structure to the Monetary Policy Committee; and NICE, primary care trusts, and other NHS purchasers should be required to adopt the common NHS threshold. NICE conjuring up a threshold and others not using one at all creates neither efficiency nor fairness in the NHS.
John Appleby, chief economist1, Nancy Devlin, professor of economics2, David Parkin, professor of economics2
1 King's Fund, London W1G 0AN, 2 City Health Economics Centre, Department of Economics, City University, London EC1V 0HB
Competing interests: With others, the authors are currently involved in a research study funded by NICE to assess the feasibility of ascertaining the implicit cost per QALY gained of investment and disinvestment decisions taken in the NHS.
Provenance and peer review: Commissioned; not externally peer reviewed.
Mais aguma literatura disponíveo através dos seguintes links:
link
link
link
Para compreensão das virtudes e limitações do NICE recomendo a leitura do seguinte relatório:
First Special Report of Session 2007–08, ordered by The House of Commons to be printed 8 May 2008
link
É cada vez mais notória a fragilidade da governação das nossas democracias.
Os recuos em relação às políticas sufragadas sucedem-se a cada passo .
A mesma lógica que levou Sócrates a despedir Correia de Campos
All or nothing
The government backs away from a deeply unpopular health-care policy
OTHER issues—crime, immigration—may worry the electorate more, but governments know that few are as prone to flare up as health care. A single tale of an operation repeatedly cancelled, or a tumour that becomes terminal while a patient waits for a scan, can convince people that the National Health Service is unfit for purpose. The effectiveness of such stories has made them staple pre-election fodder in recent years.
To prevent the NHS from turning septic politically, the health secretary, Alan Johnson, moved on June 17th towards dropping an increasingly untenable piece of dogma. The issue is whether patients who doctors think might benefit from expensive new drugs that are not provided by the NHS must be denied all state-financed treatment if they choose to buy those drugs privately. The NHS has always rationed care but, in an era of medical paternalism and no internet, patients were ignorant of what they were missing. That allowed the fiction to flourish that the highest-quality care was being provided for all, according solely to need. Growing awareness of expensive drugs, particularly for cancer, that hover just out of NHS reach has now called that into question.
Last year an old rule forbidding the combination of private and NHS treatments—originally framed to stop consultants raiding their NHS waiting lists to pad their lucrative private practices—was dusted off and cited to justify refusing NHS care to those who paid for treatment privately. Much was made of the health service's founding mission—to provide care to all that is free at the point of use, untainted by a “two-tier” system that produces better outcomes for the better off.
This provoked a slew of newspaper articles about dying cancer patients abandoned by the NHS and forced to spend their life savings on treatment they thought they had already paid for through taxes. Think-tanks as diverse as the market-minded Reform and Labour's favourite IPPR agreed the line could not hold. The British Medical Association passed a motion condemning it earlier this month. On June 16th the NHS Confederation, which represents the managers who must apply the ruling, published a discussion paper on top-ups. Banning them “threatened to undermine public confidence in the NHS”, said Nigel Edwards, its policy director. Doctors for Reform, a campaign group, had raised money for a judicial review and was simply waiting for the right test case to present itself.
All this drove Mr Johnson eventually to stop repeating the policy and start addressing the issue. He chose to deliver the message in response to a parliamentary question on the matter from John Baron, a Conservative MP who saw a constituent, Linda O'Boyle, denied NHS treatment for bowel cancer after she decided to buy herself cetuximab, a pricey drug. The health secretary revealed that he had asked Mike Richards, the NHS's national clinical director for cancer, to consider whether and when patients may top up their NHS care. Mr Richards is to report in October.
Though criticism of the ban on giving NHS care to those who have bought drugs privately has been widespread, in one surprising quarter comment has been muted. The Conservative leader, David Cameron, went so far as to say that he was “tempted” to allow patients to top up NHS care, but no farther. One observer speculates that the government delayed announcing its review in the hope that he would be lured into saying something it could spin as proof that the Tories deal with problems in public services by facilitating escape from them. Whether or not official thinking was that convoluted, the issue was bound to overshadow both the 60th anniversary of the NHS in July and a far-reaching review of its future by Lord Darzi, a surgeon, which is due by the end of June. The debate has just begun.
The economist, Jun 19th 2008
Caro João Pedro:
As opiniões sobre o NICE têm sido repetidmente expressas nos congressos, nomeadamente de Oncologia.
Em tempos, tive oportunidade de comentar a opinião de Manuel Delgado (é procurar por aí neste blog) sobre o NICE, onde já afirmabva o crescente descrédito do Instituto no meio médico.
É natural que perdendo "gaz" no meio médico ganhe "força", na área de gestão.
A racionalização económica (custo/ efectividade), contem o risco de "abafar" a utilidade, logo, a evidência estudada e comprovada.
Finalmente, quanto à sua atoarda de reaccionário (há tanta literatura para ler sobre isto), lembro-lhe que no Reino Unido, é o único sítio , acrescido do decadente império vitoriano, onde se conduz pela esquerda. São diferentes, o que se vai fazer?
O importante não é o que escrevemos sobre nós, nem nos nossos papers (The Economist) - eu não me impressiono com o DE em assuntos de Saúde - mas o julgamento que os "outros".
Tratam-se neoplasias com medicamentos inovadores noutros locais do Mundo - à revelia dos (britânicos) métodos.
Receio que o NICE, neste momento , seja maioritáriamente frequentado, por gestores. E isto diz tudo!
Para terminar, e não vir com a acusação de pretendo destruir tudo, penso que, o decreto lei n.º 195/2006 de 03 Outubro, é um bom instrumento para o estudo destes casos quando (bem) aplicado e se usado em tempo útil.
É aqui que precisamos de coerência.
Sempre defendi a racionalização dos novos medicamentos, nomeadamente, os fármacos inovadorres anti-neoplásicos. Sempre defendi a verificação da evidencia fora da sombra da Indústria farmacêutica, sempre defendi a utilização de guidelines.
Mas sou um inflexível adversário do racionamento.
Gostaria que estas duas posições - diametralmente opostas - não fossem confundidas...
Sobre o "caso Linda O'Boyle", caro João Pedro, julgo que deve estar a procurar algo que seja capaz de justificar a iniquidade e a perda de universalidade do NHS.
Os liberais devem tê-la na gaveta!
É procurar...
É interessante ler os (112) comentários do artigo do guardian (último link):
"The public deserves protection from the false hope of 'wonder drugs'"
Cara helena:
Mais interessante será ler o pasquim de auto-propaganda editado pelo próprio NICE.
http://www.nice.org.uk/media/EE/AF/
A_Guide_to_NICE_April2005.pdf
e acreditar nas patranhas "pragmáticas" do New Labour (inspiradoras de muitas coisas que se passam por cá...!).
Enviar um comentário
<< Home