Erro Médico
foto DN

Por diversas vezes nos últimos meses me interroguei sobre a oportunidade de falar sobre o caso que os “media” referiam com acintosa crueldade como “os cegos de Santa Maria”. A minha reserva era justificada não só pelo facto de não estar concluída a investigação que apuraria as causas do sucedido, como pelo facto de Santa Maria ser o meu hospital, o que poderia levar alguns a crer que eu faria, inevitavelmente, uma análise enviesada de tão triste acontecimento. Quanto ao primeiro ponto, o inquérito está concluído. Quanto ao segundo o leitor julgará.
Nunca uma investigação desta natureza terá decorrido com tanta rapidez – quatro meses! – porque, segundo declarou a magistrada responsável com indisfarçado orgulho, “toda a gente remou no mesmo sentido”, Polícia Judiciária, Instituto de Medicina Legal, Inspecção Geral das Actividades de Saúde e Infarmed. Nada disse sobre o empenhamento da Administração do hospital logo após o diagnóstico da situação para que tudo fosse esclarecido. A senhora Procuradora argumenta que a prioridade se devia a ser esta uma “questão de saúde pública”, afirmação inexacta dada a natureza especifica e a dimensão do problema. Foi sim, certamente, um caso de erro médico que afectou seis doentes com consequências trágicas. Se é certamente de aplaudir a celeridade com que se decifrou o enigma e se encontráramos responsáveis, é de lamentar que esta não seja uma prática habitual na justiça portuguesa, porque não é só em casos destes, para citar a responsável do processo, que é “devida uma resposta rápida à opinião pública”.
Até há relativamente poucos anos o erro era um dos segredos mais bem guardados da profissão médica, em parte devido à cultura tradicional desta, em que o erro era tomado como uma falta de carácter e assumido, invariavelmente, como resultado de negligência. Os novos médicos eram educados tendo como objectivo uma prática sem falha, pois, para eles, o mestre era, por definição, infalível. Quem o cometia sentia-se culpado, solitário e receoso, e a punição, caso o erro fosse revelado, implicava a censura pela sociedade, pelos colegas e, embora raramente entre nós, o castigo pelos tribunais. Um pequeno erro de prescrição, para o qual era fácil encontrar atenuantes, custou à minha companhia de seguros, há 30 anos, 700.00 dólares...
E, no entanto, já era sabido que a maneira correcta de tratar com o erro, qualquer que fosse a actividade em que ocorria, da indústria química à aviação, obrigava à sua revelação, à desmontagem dos mecanismos da sua génese, à introdução de práticas de segurança e de sistemas que absorvessem as falhas, à estandardização dos procedimentos, ao treino, à avaliação com rigorosa certificação e re-certificação e à institucionalização de segurança na profissão. Quem primeiro aprendeu isto foram os anestesistas: em 1980 havia 1 morte/10.000 anestesias e agora a proporção é de 1/260.000 a 300.000.
A dimensão do erro em medicina foi revelada pela primeira vez no ano de 2000 com grande alarido, por um relatório do “Intitute of Medicine” norte-americano intitulado “To Err is Human”. Foi com gelada surpresa que se soube que, alegadamente, o erro médico era a 8.ª causa de morte, acima, por exemplo, dos acidentes de automóvel, cancro da mama ou SIDA. Um ano antes uma investigação da Harvard Medical School analisou o que chamou “acontecimentos adversos”, ou seja lesões em doentes que eram consequência de uma intervenção médica (no sentido lato, pois os agentes poderiam ser também enfermeiros ou outros técnicos de saúde incluindo farmacêuticos) num grupo de hospitais de Nova Iorque, e concluiu que estes ocorriam em cerca de 3.7% das admissões.
É preciso salientar o facto de que nem todos os “acontecimentos adversos” são erros – por exemplo, uma infecção operatória que ocorre apesar de todas as precauções tomadas não é um erro. Erros são pois acontecimentos adversos preveníveis, que podem configurar critérios legais de negligência, por exemplo, quando se violam “boas práticas”, como seria, por exemplo, não esterilizar os instrumentos cirúrgicos.
O número de intervenções que se praticam em doentes internados numa “unidade de cuidados intensivos” é de cerca de 180/ dia, o que bem demonstra a vulnerabilidade destes doentes. Seria razoável admitir que um grau de segurança de 99% seria já aceitável. Mas não é bem assim, e a indústria reconheceu-o antes dos médicos. Um grau de segurança de 99, 9 % corresponde, por exemplo, a duas aterragens inseguras/ dia no aeroporto de Chicago, 16.000 cartas extraviadas/hora ou 3200 cheques descontados erradamente por hora!
A investigação do que se passou no meu hospital revelou que terá havido um erro na preparação do medicamento. Este é um aspecto fundamental da prática clínica, porque cada vez se prescrevem medicamentos mais activos e mais perigosos. Um estudo, já não recente, apontava para uma incidência de erros com medicamentos de cerca de 20% em todas as admissões hospitalares, sendo as crianças as mais vulneráveis devido ao cálculo errado das doses administradas. Desenvolveram-se por isso estratégias de prescrição electrónica e de padronização dos procedimentos. Nada disto é suficiente contudo, para eliminar o “erro humano”.
A investigação de erro, como apontou o filósofo Hans Popper, numa breve incursão pela medicina, deve ser feita de uma forma racional, e para prevenir o erro temos de aceitar a nossa falibilidade. Esconder o erro é um pecado mortal. Mas a única lição que se pode colher do erro, o seu valor heurístico se quisermos, é desenvolver os mecanismos de prevenção que tornem impossível que volte a suceder.
O erro médico é sempre notícia e, habitualmente, a mensagem que se transmite é de uma enorme violência para todos – vitimas, profissionais e instituições. Neste caso, um hospital foi tratado como uma sanha inaudita, e a história parece não ter fim, sabe-se lá com que propósito. Ainda recentemente, o Jornal de Domingo da RTP1 dedicou-lhe, a pretexto dos seis meses do acontecimento, uma longa reportagem sobre a dolorosa tragédia de um dos doentes. Em rodapé lia-se:” A última vítima do Santa Maria regressa a casa sem visão”. Assim se toma a parte pelo todo: o erro de dois profissionais foi transformado no crime global de uma instituição!
No meio deste turbilhão impôs-se a serenidade, o profissionalismo e actuação exemplarmente transparente da sua administração. O seu líder, Adalberto Campos Fernandes, deixa agora Santa Maria ao fim de cinco anos em que se operou a maior revolução institucional dos cinquenta anos de vida do hospital. Pela sua inteligência, pelo seu tacto, pelo entendimento esclarecido de que é a missão social de um Hospital Universitário, pela genuína preocupação com a humanização dos cuidados, pelas pontes que estabeleceu entre a Faculdade de Medicina e o ensino e o Instituto de Medicina Molecular e a investigação, levaram pela primeira vez em Portugal, à criação de um Centro Académico de Medicina, Adalberto Campos Fernandes deixou marca profunda naquele que é (e outros nos julgaram) o primeiro hospital do país. Espero que a sua lição frutifique.
Nunca uma investigação desta natureza terá decorrido com tanta rapidez – quatro meses! – porque, segundo declarou a magistrada responsável com indisfarçado orgulho, “toda a gente remou no mesmo sentido”, Polícia Judiciária, Instituto de Medicina Legal, Inspecção Geral das Actividades de Saúde e Infarmed. Nada disse sobre o empenhamento da Administração do hospital logo após o diagnóstico da situação para que tudo fosse esclarecido. A senhora Procuradora argumenta que a prioridade se devia a ser esta uma “questão de saúde pública”, afirmação inexacta dada a natureza especifica e a dimensão do problema. Foi sim, certamente, um caso de erro médico que afectou seis doentes com consequências trágicas. Se é certamente de aplaudir a celeridade com que se decifrou o enigma e se encontráramos responsáveis, é de lamentar que esta não seja uma prática habitual na justiça portuguesa, porque não é só em casos destes, para citar a responsável do processo, que é “devida uma resposta rápida à opinião pública”.
Até há relativamente poucos anos o erro era um dos segredos mais bem guardados da profissão médica, em parte devido à cultura tradicional desta, em que o erro era tomado como uma falta de carácter e assumido, invariavelmente, como resultado de negligência. Os novos médicos eram educados tendo como objectivo uma prática sem falha, pois, para eles, o mestre era, por definição, infalível. Quem o cometia sentia-se culpado, solitário e receoso, e a punição, caso o erro fosse revelado, implicava a censura pela sociedade, pelos colegas e, embora raramente entre nós, o castigo pelos tribunais. Um pequeno erro de prescrição, para o qual era fácil encontrar atenuantes, custou à minha companhia de seguros, há 30 anos, 700.00 dólares...
E, no entanto, já era sabido que a maneira correcta de tratar com o erro, qualquer que fosse a actividade em que ocorria, da indústria química à aviação, obrigava à sua revelação, à desmontagem dos mecanismos da sua génese, à introdução de práticas de segurança e de sistemas que absorvessem as falhas, à estandardização dos procedimentos, ao treino, à avaliação com rigorosa certificação e re-certificação e à institucionalização de segurança na profissão. Quem primeiro aprendeu isto foram os anestesistas: em 1980 havia 1 morte/10.000 anestesias e agora a proporção é de 1/260.000 a 300.000.
A dimensão do erro em medicina foi revelada pela primeira vez no ano de 2000 com grande alarido, por um relatório do “Intitute of Medicine” norte-americano intitulado “To Err is Human”. Foi com gelada surpresa que se soube que, alegadamente, o erro médico era a 8.ª causa de morte, acima, por exemplo, dos acidentes de automóvel, cancro da mama ou SIDA. Um ano antes uma investigação da Harvard Medical School analisou o que chamou “acontecimentos adversos”, ou seja lesões em doentes que eram consequência de uma intervenção médica (no sentido lato, pois os agentes poderiam ser também enfermeiros ou outros técnicos de saúde incluindo farmacêuticos) num grupo de hospitais de Nova Iorque, e concluiu que estes ocorriam em cerca de 3.7% das admissões.
É preciso salientar o facto de que nem todos os “acontecimentos adversos” são erros – por exemplo, uma infecção operatória que ocorre apesar de todas as precauções tomadas não é um erro. Erros são pois acontecimentos adversos preveníveis, que podem configurar critérios legais de negligência, por exemplo, quando se violam “boas práticas”, como seria, por exemplo, não esterilizar os instrumentos cirúrgicos.
O número de intervenções que se praticam em doentes internados numa “unidade de cuidados intensivos” é de cerca de 180/ dia, o que bem demonstra a vulnerabilidade destes doentes. Seria razoável admitir que um grau de segurança de 99% seria já aceitável. Mas não é bem assim, e a indústria reconheceu-o antes dos médicos. Um grau de segurança de 99, 9 % corresponde, por exemplo, a duas aterragens inseguras/ dia no aeroporto de Chicago, 16.000 cartas extraviadas/hora ou 3200 cheques descontados erradamente por hora!
A investigação do que se passou no meu hospital revelou que terá havido um erro na preparação do medicamento. Este é um aspecto fundamental da prática clínica, porque cada vez se prescrevem medicamentos mais activos e mais perigosos. Um estudo, já não recente, apontava para uma incidência de erros com medicamentos de cerca de 20% em todas as admissões hospitalares, sendo as crianças as mais vulneráveis devido ao cálculo errado das doses administradas. Desenvolveram-se por isso estratégias de prescrição electrónica e de padronização dos procedimentos. Nada disto é suficiente contudo, para eliminar o “erro humano”.
A investigação de erro, como apontou o filósofo Hans Popper, numa breve incursão pela medicina, deve ser feita de uma forma racional, e para prevenir o erro temos de aceitar a nossa falibilidade. Esconder o erro é um pecado mortal. Mas a única lição que se pode colher do erro, o seu valor heurístico se quisermos, é desenvolver os mecanismos de prevenção que tornem impossível que volte a suceder.
O erro médico é sempre notícia e, habitualmente, a mensagem que se transmite é de uma enorme violência para todos – vitimas, profissionais e instituições. Neste caso, um hospital foi tratado como uma sanha inaudita, e a história parece não ter fim, sabe-se lá com que propósito. Ainda recentemente, o Jornal de Domingo da RTP1 dedicou-lhe, a pretexto dos seis meses do acontecimento, uma longa reportagem sobre a dolorosa tragédia de um dos doentes. Em rodapé lia-se:” A última vítima do Santa Maria regressa a casa sem visão”. Assim se toma a parte pelo todo: o erro de dois profissionais foi transformado no crime global de uma instituição!
No meio deste turbilhão impôs-se a serenidade, o profissionalismo e actuação exemplarmente transparente da sua administração. O seu líder, Adalberto Campos Fernandes, deixa agora Santa Maria ao fim de cinco anos em que se operou a maior revolução institucional dos cinquenta anos de vida do hospital. Pela sua inteligência, pelo seu tacto, pelo entendimento esclarecido de que é a missão social de um Hospital Universitário, pela genuína preocupação com a humanização dos cuidados, pelas pontes que estabeleceu entre a Faculdade de Medicina e o ensino e o Instituto de Medicina Molecular e a investigação, levaram pela primeira vez em Portugal, à criação de um Centro Académico de Medicina, Adalberto Campos Fernandes deixou marca profunda naquele que é (e outros nos julgaram) o primeiro hospital do país. Espero que a sua lição frutifique.
João Lobo Antunes , DE 06.02.10
Etiquetas: HH
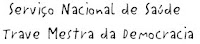

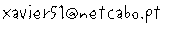





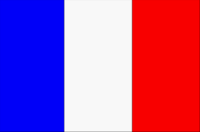
















0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home