Entrevista Miguel Gouveia

Gestão Hospitalar (GH) – Como é que vê as recentes medidas do Ministério da Saúde? link pdf
Miguel Gouveia (MG)– Há aqui um conjunto de medidas muito grande e um conjunto muito diferente de problemas que estão na origem destas medidas. Nós temos uma rede de hospitais que foi delineada nos anos 70 quando as acessibilidades e a distribuição da população eram completamente diferentes e que foi delineada, também, para uma altura em que a tecnologia na área da saúde implicava tempos de internamento hospitalares relativamente longos. Agora, temos um mapa do País completamente alterado com novas comunicações que mudam a geografia prática do acesso aos cuidados de saúde. Ao mesmo tempo, tivemos mudanças radicais na tecnologia dos cuidados de saúde que fazem com que as demoras médias sejam muito mais curtas. Além disso, com toda a ênfase no hospital de dia, nas cirurgias ambulatórias, temos uma utilização muito menor do internamento hospitalar.
Em todo o mundo estão a dar-se revoluções do parque hospitalar, fechar serviços, fechar hospitais. Sob este ponto de vista, não é mais do que adequar o ‘stock’ de capital que tínhamos em infraestruturas na área da saúde às necessidades com as novas tecnologias.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o Estado de Nova Iorque está a fechar uma percentagem relativamente grande dos seus hospitais. O que se está a passar em Portugal é o que se está a passar noutras parte do mundo.
GH – Nesta área, pelo menos, considera infundadas as acusações de economicismo?
MG – Sou economista, portanto, uma acusação de economicismo não me faz chorar muito! Muitas vezes as pessoas atiram com acusações de economicismo quando querem que outros paguem as contas.
É natural que, da parte do Ministério da Saúde, numa altura em que, nos últimos anos, as despesas têm continuado a crescer em ritmos superiores aos do PIB haja alguma preocupação de fazer uma contenção de custos. Temos esta nova realidade económica e tecnológica relativamente à qual, se não fizessemos nada, teríamos um sistema de saúde cada vez mais obsoleto relativamente às necessidades da população. Por outro lado, há um argumento que os peritos utilizaram - e que o ministro Correia de Campos invocou várias vezes - que tem sido algo muito estudado na economia da saúde. A ideia é ter poucos locais onde o volume das intervenções muito técnicas e muito especializadas é grande. Escolher a concentração é claramente uma via muito positiva. Há enormes economias de escala, economias de aprendizagem, que levam a melhores resultados em termos de saúde, de segurança, em termos de efectividade das intervenções. Todas as intervenções cirúrgicas e todo o tipo de intervenções tecnologicamente sofisticadas têm uma grande componente de experiência, de aprendizagem,de ‘on the job training’. Pensar que se podem ter unidades pequenas a fazer pequenos volumes de intervenções é perfeitamente errado do ponto de vista da própria qualidade do processo.
GH – Mas é este o caminho para controlar as despesas ou existem outras áreas de intervenção?
MG – Tem a ver com a própria qualidade técnica dos serviços prestados. Está muito estudado o facto de intervenções mais diferenciadas, quase todo o tipo de cirurgias um bocadinho mais complexas, terem muito a ganhar com a concentração e com elevados volumes. E isto nem sequer tem a ver com economia mas, sim, com a qualidade técnica dos serviços.
Uma segunda parte, que é a da consolidação hospitalar, tem a ver com o facto de, com as novas tecnologias, serem precisas menos camas. Não faz sentido ter hospitais espalhados por todo o lado. Faz sentido ter um parque hospitalar mais sofisticado e mais pequeno. O que acontece é que muitos cuidados, que antes eram de internamento, agora levam apenas a tratamento em ambulatório. O que sobra e que continua a ficar no hospital é tecnologicamente mais pesado que no passado. Pode-se poupar custos em alguns serviços, mas esses custos vão surgir onde os mesmos doentes vão ser tratados de forma tecnologicamente mais sofisticada. Não é nada óbvio que se gerem, assim, tantas poupanças como isso.
GH – Então onde é que se pode cortar nas despesas da Saúde?
MG – Tivemos duas experiências muito interessantes na Europa – a experiência finlandesa nos anos 90 e, nos 80, já tinha acontecido a mesma coisa na Irlanda. São países que, por causa de crises de finanças públicas, uma situação à qual não somos estranhos, registaram-se mudanças relativamente radicais no seu sistema de saúde em que, em dois ou três anos, a percentagem do PIB dedicada à saúde decresceu de forma significativa – um por cento. O que, no montante global considerado, é enorme. E, quer no caso da Irlanda quer no caso da Finlândia, essa redução ocorreu e quando olhamos para a esperança de vida e para todos os indicadores normais de saúde na população nada foi alterado. Portanto, aparentemente, foi possível cortar as despesas de saúde em 1% do PIB sem que seja óbvio que isso tenha tido reflexos maus na saúde da população.
Isto é a prova que existe muita ineficiência no sistema que é possível retirar. Mas se nós retirarmos, por um passe de mágica, 1%, 2%, 3% de gordura ao sistema nacional de saúde e o tornamos muito eficiente, a longo prazo as despesas em saúde vão continuar a crescer imenso. E isso é razoável por uma razão muito simples: o que o sistema de saúde produz é tempo e qualidade de vida, que é uma coisa que as pessoas valorizam muito. Estarmos a gastar muito num sector que produz algo com muito valor não é necessariamente mau. Os custos são grandes mas os benefícios são ainda maiores.
GH – Falando de ineficiência, fala-se de desperdício e há áreas em que se pode cortar, como nos medicamentos. Mas a medida de impôr um tecto de crescimento de 4% não tem funcionado.
MG – A realidade que existe acerca de todo o tipo de medidas que são feitas de forma cega e global é sempre a história de apertar um balão cheio de ar. Apertamos e o balão fica mais pequeno mas, depois, o ar vai para outro lado.
Tipicamente o que acontece quando temos medidas destas, globais, é que a indústria, que tem muita criatividade, acaba sempre por encontrar outros lugares onde fazer crescer a despesa. São medidas que têm sempre impacto a curto prazo, mas a longo prazo há sempre uma compensação e, no final, a medida acaba por sempre muito menos eficaz.
Por outro lado, há aqui algumas coisas nas medidas que têm vindo a ser tomadas que me parecem males menores. Quando estive na comissão de avaliação dos hospitais SA fiquei com a nítida sensação que, apesar de em alguns hospitais as comissões de farmácia e terapêutica funcionarem relativamente bem e serem criteriosas a seleccionar os novos medicamentos que adoptam, noutros hospitais o critério para comprar novos medicamentos era praticamente inexistente. Lembro-me de um hospital onde o presidente do conselho de administração me mostrou uma pilha de pedidos onde, mesmo que ele só desse autorização para um terço, passávamos de três listas telefónicas para uma lista telefónica.
Além de tectos gerais, que podem não funcionar muito bem, acho que o que vai ter mais impacto a longo prazo é que a admissão de novos medicamentos nos hospitais passa a ser decidida centralmente e não fica sujeita à discrição de cada hospital. Não é o ideal mas provavelmente é um mal menor.
Miguel Gouveia (MG)– Há aqui um conjunto de medidas muito grande e um conjunto muito diferente de problemas que estão na origem destas medidas. Nós temos uma rede de hospitais que foi delineada nos anos 70 quando as acessibilidades e a distribuição da população eram completamente diferentes e que foi delineada, também, para uma altura em que a tecnologia na área da saúde implicava tempos de internamento hospitalares relativamente longos. Agora, temos um mapa do País completamente alterado com novas comunicações que mudam a geografia prática do acesso aos cuidados de saúde. Ao mesmo tempo, tivemos mudanças radicais na tecnologia dos cuidados de saúde que fazem com que as demoras médias sejam muito mais curtas. Além disso, com toda a ênfase no hospital de dia, nas cirurgias ambulatórias, temos uma utilização muito menor do internamento hospitalar.
Em todo o mundo estão a dar-se revoluções do parque hospitalar, fechar serviços, fechar hospitais. Sob este ponto de vista, não é mais do que adequar o ‘stock’ de capital que tínhamos em infraestruturas na área da saúde às necessidades com as novas tecnologias.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o Estado de Nova Iorque está a fechar uma percentagem relativamente grande dos seus hospitais. O que se está a passar em Portugal é o que se está a passar noutras parte do mundo.
GH – Nesta área, pelo menos, considera infundadas as acusações de economicismo?
MG – Sou economista, portanto, uma acusação de economicismo não me faz chorar muito! Muitas vezes as pessoas atiram com acusações de economicismo quando querem que outros paguem as contas.
É natural que, da parte do Ministério da Saúde, numa altura em que, nos últimos anos, as despesas têm continuado a crescer em ritmos superiores aos do PIB haja alguma preocupação de fazer uma contenção de custos. Temos esta nova realidade económica e tecnológica relativamente à qual, se não fizessemos nada, teríamos um sistema de saúde cada vez mais obsoleto relativamente às necessidades da população. Por outro lado, há um argumento que os peritos utilizaram - e que o ministro Correia de Campos invocou várias vezes - que tem sido algo muito estudado na economia da saúde. A ideia é ter poucos locais onde o volume das intervenções muito técnicas e muito especializadas é grande. Escolher a concentração é claramente uma via muito positiva. Há enormes economias de escala, economias de aprendizagem, que levam a melhores resultados em termos de saúde, de segurança, em termos de efectividade das intervenções. Todas as intervenções cirúrgicas e todo o tipo de intervenções tecnologicamente sofisticadas têm uma grande componente de experiência, de aprendizagem,de ‘on the job training’. Pensar que se podem ter unidades pequenas a fazer pequenos volumes de intervenções é perfeitamente errado do ponto de vista da própria qualidade do processo.
GH – Mas é este o caminho para controlar as despesas ou existem outras áreas de intervenção?
MG – Tem a ver com a própria qualidade técnica dos serviços prestados. Está muito estudado o facto de intervenções mais diferenciadas, quase todo o tipo de cirurgias um bocadinho mais complexas, terem muito a ganhar com a concentração e com elevados volumes. E isto nem sequer tem a ver com economia mas, sim, com a qualidade técnica dos serviços.
Uma segunda parte, que é a da consolidação hospitalar, tem a ver com o facto de, com as novas tecnologias, serem precisas menos camas. Não faz sentido ter hospitais espalhados por todo o lado. Faz sentido ter um parque hospitalar mais sofisticado e mais pequeno. O que acontece é que muitos cuidados, que antes eram de internamento, agora levam apenas a tratamento em ambulatório. O que sobra e que continua a ficar no hospital é tecnologicamente mais pesado que no passado. Pode-se poupar custos em alguns serviços, mas esses custos vão surgir onde os mesmos doentes vão ser tratados de forma tecnologicamente mais sofisticada. Não é nada óbvio que se gerem, assim, tantas poupanças como isso.
GH – Então onde é que se pode cortar nas despesas da Saúde?
MG – Tivemos duas experiências muito interessantes na Europa – a experiência finlandesa nos anos 90 e, nos 80, já tinha acontecido a mesma coisa na Irlanda. São países que, por causa de crises de finanças públicas, uma situação à qual não somos estranhos, registaram-se mudanças relativamente radicais no seu sistema de saúde em que, em dois ou três anos, a percentagem do PIB dedicada à saúde decresceu de forma significativa – um por cento. O que, no montante global considerado, é enorme. E, quer no caso da Irlanda quer no caso da Finlândia, essa redução ocorreu e quando olhamos para a esperança de vida e para todos os indicadores normais de saúde na população nada foi alterado. Portanto, aparentemente, foi possível cortar as despesas de saúde em 1% do PIB sem que seja óbvio que isso tenha tido reflexos maus na saúde da população.
Isto é a prova que existe muita ineficiência no sistema que é possível retirar. Mas se nós retirarmos, por um passe de mágica, 1%, 2%, 3% de gordura ao sistema nacional de saúde e o tornamos muito eficiente, a longo prazo as despesas em saúde vão continuar a crescer imenso. E isso é razoável por uma razão muito simples: o que o sistema de saúde produz é tempo e qualidade de vida, que é uma coisa que as pessoas valorizam muito. Estarmos a gastar muito num sector que produz algo com muito valor não é necessariamente mau. Os custos são grandes mas os benefícios são ainda maiores.
GH – Falando de ineficiência, fala-se de desperdício e há áreas em que se pode cortar, como nos medicamentos. Mas a medida de impôr um tecto de crescimento de 4% não tem funcionado.
MG – A realidade que existe acerca de todo o tipo de medidas que são feitas de forma cega e global é sempre a história de apertar um balão cheio de ar. Apertamos e o balão fica mais pequeno mas, depois, o ar vai para outro lado.
Tipicamente o que acontece quando temos medidas destas, globais, é que a indústria, que tem muita criatividade, acaba sempre por encontrar outros lugares onde fazer crescer a despesa. São medidas que têm sempre impacto a curto prazo, mas a longo prazo há sempre uma compensação e, no final, a medida acaba por sempre muito menos eficaz.
Por outro lado, há aqui algumas coisas nas medidas que têm vindo a ser tomadas que me parecem males menores. Quando estive na comissão de avaliação dos hospitais SA fiquei com a nítida sensação que, apesar de em alguns hospitais as comissões de farmácia e terapêutica funcionarem relativamente bem e serem criteriosas a seleccionar os novos medicamentos que adoptam, noutros hospitais o critério para comprar novos medicamentos era praticamente inexistente. Lembro-me de um hospital onde o presidente do conselho de administração me mostrou uma pilha de pedidos onde, mesmo que ele só desse autorização para um terço, passávamos de três listas telefónicas para uma lista telefónica.
Além de tectos gerais, que podem não funcionar muito bem, acho que o que vai ter mais impacto a longo prazo é que a admissão de novos medicamentos nos hospitais passa a ser decidida centralmente e não fica sujeita à discrição de cada hospital. Não é o ideal mas provavelmente é um mal menor.
entrevista de Marina Caldas, Gestão Hospitalar, Dez 06
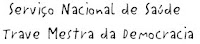

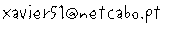





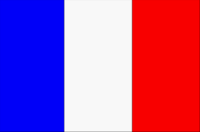
















2 Comments:
Interessante a motivação dos directores de serviços hospitalares ("empire building") dos nossos hospitais referida por MG.
O exemplo mais elucidativo deste processo são o H.Amadora Sintra e o H. Garcia de Orta.
Enquanto o Amadora Sintra manteve desde o arranque o mesmo perfil de funcionamento de serviços, no H. Garcia de Orta registou-se um processo de "engorda" através da evolução para uma maior diferenciação e complexidade de funcionamento dos serviços (recurso a novos meios: mais pessoal, novos equipamentos, novas técnicas).
Não terá este processo conribuído para que os nossos hospitais públicos sejam hoje o local onde se pratica o último estado de arte das técnicas médicas e cirúrgicas hospitalares?
Em teoria não posso estar mais de acordo com a análise de Miguel Gouveia, aliás já alguma vezes utilizada por CC e outros (talvez de forma menos bem sistematizada).
Mas na prática julgo que as coisas não são bem assim.
Nos anos 70, como sabemos as taxas de mortalidade eram ainda muito elevadas em Portugal (nomedamente a infantil). Melhorou-se o acesso aos cuidados e alargou-se a rede assitencial, aproximando os cuidados de saúde das populações e os resultados apareceram. Ainda assim, decorridas três décadas, ainda hoje há casos de morte que uma maior proximidade poderia evitar! E há casos de morte por falta de meios em muitos dos pequenos hospitais do interior.
É certo que as vias e os meios de comunicação permitiram encurtar distâncias, mas tanbém é certo que as necessidades de cuidados de saúde são maiores (cidadãos mais concientes são mais exigentes) e o "caminho" em termos de cobertura da rede parece ir no sentido contrário.
Continuo a pensar que é errado (propositadamente ou não) fazer-se a avaliação da grandeza das despesas de saúde em comparação com o seu peso no PIB. Os dados dizem-nos que em termos de despesas de saúde per capita (medidas em termos de p.p.c.), Portugal não gasta mais do que a maioria dos nossos parceiros europeus. Mas se o nosso PIB, como aliás se tem verificado há mais de uma dezena de anos, cresce menos que o PIB médio europeu, naturalmente o peso no PIB das nossas despesas de saúde será cada vez maior (a teoria da elasticidade-rendimento, como sabemos explica tudo isto). E se além do mais o País tem um PIB relativamente baixo, não pode deixar de verificar-se uma maior relação entre as Despesas da Saúde e aquele, até porque o nosso nível assistencial está ainda longe do desejável (quando comparado com outros países).
Não sei se os casos citados dos países nórdicos com redução do peso das despesas nos respectivos PIB's resultaram, tão só, de cortes na despesa. O que sei (e sabemos) é que aqueles países viranm crescer, a taxas bem maiores que a média europeia, os respectivos PIB's e tal bastaria para que, crescendo as respecivas despesas de saúde a ritmo menor, o seu peso nos PIB's daqueles países também diminuísse.
Estamos naturalmente de acordo quanto à possibilidade de se conseguirem ganhos de eficiência mas não nos parece que as mega-unidades sejam a melhor solução.
Aliás basta comparamos os custos, no sistema actual, dos grandes hospitais com os de hospitais de média dimensão, para verificarmos que "a lei das economias de escala" tem pouca aderência no sector da saúde.
Quanto à centralização, no INFARMED, da autorização de introdução de novos medicamentos nos Hospitais, discordo totalmente dessa centralização. Será centralizar o poder em quem não responde por resultados, em quem não será responsabilizado pelos danos que uma decisão errada possa causar aos doentes em tratamento. Será por outro lado desresponsabilizar os Gestores dos Hospitais. E o erro quando existir (e ninguém garante que os técnicos do INFARMED são mais competentes que os outros (em todos os sentidos) terá as nefastas consequências repercutidas a nível nacional, portanto consequências bem mais gravosas para o SNS.
Nota: ouvi no programa Prós e Contras o Ministro Mariando Gago defender-se de algumas críticas utilizando o mesmo raciocínio que aqui utlizo em relação ao peso das despesas no PIB. Será que ele está errado?
Enviar um comentário
<< Home