Luís Campos, entrevista à GH
...GH:
Reúne uma longa experiência na direcção de serviços e departamentos
hospitalares. Quais os principais obstáculos que identifica na governação
hospitalar na actualidade?
LC: Para quem tem que gerir equipas e hospitais os tempos
não têm sido fáceis. Em primeiro lugar houve uma redução substancial das
remunerações dos profissionais de saúde: os médicos foram os funcionários
públicos mais penalizados nesta crise, tendo perdido quase 700 euros de
rendimento mensal nos últimos quatro anos e os enfermeiros quase 200 euros. Em
contraste os juízes viram o seu rendimento mensal subir quase 1000 euros.
Quando a saúde é reconhecidamente o sector da administração pública que funciona
melhor e os tribunais um dos que funciona pior, imagine-se o impacto desta
iniquidade na motivação das pessoas e a nossa dificuldade em motivar as nossas
equipas. Depois assistiu-se a uma ditadura cega do ministério das finanças em
relação aos hospitais. Os hospitais têm estado tolhidos na sua capacidade de
gestão e as restrições aplicaram-se da mesma forma aos que tinham bons
resultados e aos que tinham maus resultados. Acabaram por ser os hospitais que
eram mais eficientes os que foram mais penalizados. A crise das urgências é, em
parte, resultante desta perda de flexibilidade dos hospitais pelas restrições
às contratações. Há que autonomizar a gestão e naturalmente responsabilizar
mais, o que significa que a má gestão tem que ter consequências e a boa deve
ser incentivada. Uma das áreas mais penalizantes foi a perda da capacidade de escolha
dos profissionais por parte dos hospitais, o que impossibilita a formação de
equipas coerentes e funcionais. Este facto, a par da dificuldade em concorrer
com os grupos privados de saúde e com os hospitais em PPP, tem impossibilitado
a renovação dos serviços com as pessoas que nos fazem falta. Em relação à minha
especialidade, Medicina Interna, a obrigatoriedade que muitos hospitais
introduziram de os internistas admitidos terem que ficar um ou mais anos nas
equipas fixas de urgência está a ser fatal para muitos serviços de Medicina. O
reforço da gestão intermédia é uma mudança desejável, mas isso já faz parte das
prioridades enunciadas por esta equipa ministerial. No entanto, para que isto
seja real esta gestão intermédia não pode ser ultrapassada e desautorizada
pelas administrações, tal como sucede em alguns hospitais, em que esta gestão
intermédia está instituída.
GH:
Como vê o futuro dos cuidados hospitalares no quadro do sistema nacional de
saúde ?
LC: É cada vez mais difícil predizer o futuro, porque ele
acontece cada vez mais rapidamente e porque é cada vez mais incerto. A
possibilidade de epidemias à escala global, a emergência de estirpes
bacterianas resistentes a todos antibióticos, as catástrofes decorrentes das
alterações climáticas, os fenómenos migratórios, novas crises económicas, são
possibilidades próximas que podem inverter subitamente as nossas prioridades.
pelo que a atitude mais correta é a criação de cenários. A perspetiva que
apresento é baseada num cenário evolutivo que o Institute for Alternative
Futures designou de “zona de expectativa convencional”.
Em primeiro lugar: de que doentes têm os hospitais que
cuidar? De doentes cada vez mais idosos, com mais doenças crónicas, com
multimorbilidades, com mais incapacidade, mais problemas sociais, que vêm
morrer aos hospitais, mas também doentes cada vez mais informados, mais
exigentes e com expectativas que excedem a real capacidade de resposta da
Medicina, expectativas formatadas pelas séries de televisão passadas nos
hospitais. Mas a procura de cuidados também é determinada pela oferta. E como
têm evoluído os cuidados hospitalares? O crescimento vertiginoso do
conhecimento médico e a evidência da relação entre volume e qualidade têm
induzido uma especialização crescente e a fragmentação inexorável das
especialidades, transformando o paradigma do exercício da Medicina numa
actividade essencialmente baseada em equipas. A resposta adaptativa da estrutura
hospitalar tem sido o aumento da escala dos hospitais e a sua concentração. Em
Portugal isso tem acontecido de forma acelerada: em 2008 tínhamos 73 hospitais
de agudos e actualmente são 40, número que me parece perto do ideal. Esta
evolução foi determinada pela reforma das urgências.
E como se diferenciam estes hospitais em termos de
capacidade de resposta? A reforma das urgências definiu os hospitais de agudos
e separou-os em dois níveis: os que tinham urgência polivalente os que tinham
urgência médico-cirúrgica, mas isso não substituiu a necessidade de uma carta
hospitalar, enquanto documento estruturante e de referência do Serviço Nacional
de Saúde. Eu próprio reivindiquei durante muitos anos a sua publicação, tendo
mesmo sido coautor de uma proposta, a pedido da DGS em 2008. Finalmente a
portaria 82/2014 definiu uma espécie de carta hospitalar, mas a sua
incoerência levou a uma contestação generalizada que logo conduziu à sua
renegação pelo próprio ministério. A redefinição da carta hospitalar terá necessariamente
que acontecer a breve prazo. A reforma das urgências acelerou também a criação
de centros hospitalares. Não está bem avaliado o impacto da criação destes
centros. No entanto vejo com preocupação o modelo que alguns centros
hospitalares adoptaram, que é dispersar os serviços por vários hospitais. Esta
opção cria dificuldades na comunicação e no aproveitamento de sinergias,
colocando barreiras geográficas para o acesso dos doentes a cuidados
hospitalares. Penso que seria preferível centralizar o internamento e
descentralizar o ambulatório e, quando houvesse necessidade de manter o
internamento, que isto acontecesse apenas nas especialidades básicas. A criação
de grandes clínicas ambulatórias com cuidados integrados tem sido uma das
estratégias de sucesso dos grupos privados.
Ainda em relação à rede hospitalar, tem sido defendido
que a abertura de mais camas de cuidados de longo termo permite o encerramento
de camas hospitalares, o que justificou o encerramento de mais de 400 camas nos
últimos três anos. Na realidade a ausência dessas camas de longo termo é o
nosso maior desequilíbrio estrutural em termos de capacidade de internamento,
mas para além disso temos também um défice de camas de agudos em relação à
média dos países europeus e esta necessidade vai aumentar, particularmente em
relação a camas médicas, previsão que é consensual nos vários sistemas de
saúde. Este défice acontece apesar do crescimento da capacidade de internamento
que tem estado a acontecer no sector privado e que, e ao que tudo indica, se irá
acentuar.
A invasão dos hospitais pelos doentes idosos e com
multimorbilidades, aquilo que os anglo-saxónicos chamam o "silver tsunami", é um
problema prioritário para todos os sistemas de saúde nos países ocidentais. Na
Medicare os cerca de 14% dos doentes com seis ou mais condições crónicas
representam quase 50% das despesas. Assim, quanto mais caminharmos na direcção
da hiperespecialização mais precisamos de uma especialidade generalista, dentro
do hospital essa especialidade é a Medicina Interna. Não só nos serviços de
Medicina mas no apoio a todos os outros serviços hospitalares, particularmente
os cirúrgicos. A importância da Medicina Interna fica bem demonstrada nestas
alturas de inverno em que os internistas são sujeitos a uma sobrecarga extrema,
tratando destes doentes nas urgências, nos serviços de Medicina e em muitas
outras camas espalhadas por todo o hospital, e isto sem que haja qualquer
remuneração extra como acontece com a produção cirúrgica adicional, porque é
esta que traz financiamento para o hospital. A necessidade desta especialidade
generalista nos hospitais tem sido traduzida no crescimento exponencial dos
hospitalistas nos EUA ou da Acute Medicine, no Reino Unido.
Estes doentes, que são doentes complexos e são os grandes
utilizadores das nossas enfermarias e das nossas consultas, beneficiam da nossa
experiência, mas não podem ser abordados através de programas de gestão de
doença crónica centrados em doenças mas através de uma resposta dirigida às
necessidades específicas de cada um. Esta resposta deve estar centrada em
equipas multidisciplinares lideradas por internistas. Para que estes programas
apareçam é preciso que o financiamento não esteja só centrado na produção
hospitalar mas também nestes programas de responsabilidade partilhada entre
diferentes níveis de cuidados.
No internamento a criação de departamentos geridos pela
Medicina Interna, que articulasse a intervenção das outras especialidades, tal
como está implementado no Hospital Beatriz Ângelo e no de Matosinhos, seria,
quanto a mim, a forma mais eficaz de dar resposta a estes doentes. O nosso país
teve a clarividência de, ao longo dos anos, decidir o número anual de vagas nas
especialidades em função das necessidades das pessoas e não em função das
preferências dos licenciados em Medicina, como acontece em muitos países
europeus. Desta forma conseguiu manter o melhor ratio europeu entre as
especialidades generalistas e as outras, estando em boas condições para poder
ser um case study neste campo.
Uma palavra para os centros de referência em fase de
implementação e que emanam de uma directiva europeia. Sendo, à partida, uma boa
ideia, é fundamental evitar o risco de poderem aumentar a iniquidade no acesso
a cuidados de qualidade, oferecendo excelência a alguns doentes e deteriorando
a qualidade dos cuidados aos restantes, por falta de acesso. Finalmente não
prevejo que iremos passar de tempos de graves restrições para tempos de
fartura, pelo que a necessidade de identificar ineficiências e aumentar a
produtividade vai continuar a ser um desafio para gestores e profissionais.
GH:
O Hospital da próxima década como é que vai ser?
LC: Não lhe vou responder como vai ser mas como eu
gostaria que fosse: gostaria que o hospital do futuro prestasse uma assistência
clínica que se distinguisse pela excelência na sua qualidade, que os
profissionais trabalhassem verdadeiramente em equipas e as equipas comunicassem
de forma eficaz, que os doentes, para além de serem bem tratados se sentissem
bem tratados, com humanidade e no respeito escrupuloso pelos seus direitos, que
a sua segurança fosse uma prioridade para todos, que houvesse uma preocupação
por todas as questões do ambiente que favorecem a recuperação dos doentes, que
o modelo organizacional fosse informado pela melhor evidência e que o interesse
dos doentes fosse o critério de decisão para todas as mudanças, que o hospital
fosse um espaço onde os profissionais se sentissem felizes, realizados,
tivessem oportunidades de desenvolvimento pessoal, condições remuneratórias
condignas e reconhecimento pelo mérito, que o sistema de informação fosse fácil
de usar e permitisse acesso à informação dos doentes em todos os locais e a
toda hora, assim como acesso a bases de dados do conhecimento onde e sempre que
os profissionais precisassem, que as inovações tecnológicas fossem introduzidas
de forma atempada, que o hospital fosse também uma escola e a investigação uma
prioridade, havendo a possibilidade de juntar a investigação básica e clínica,
que o hospital saísse das suas fronteiras e levasse a sua expertise aos centos
de saúde e a casa dos doentes e cooperasse com outras estruturas para garantir
cuidados integrados a cada doente de acordo com as suas necessidades. É isto
que eu gostava que fosse o hospital da próxima década.
Luís
Campos, entrevista GH link
Etiquetas: Entrevistas

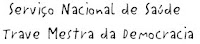

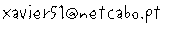





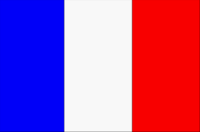
















0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home