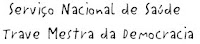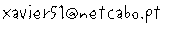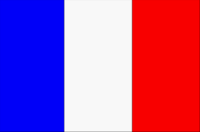Novo Hospital de Cascais
0. - Paulo Mendo (PM) é, consensualmente, uma personagem de destaque na saúde e na análise dos problemas do nosso SNS. Eminentemente profissional, sempre em exclusividade, mesmo quando este regime de trabalho ainda não tinha reconhecimento legal (deve-se-lhe a sua criação, bem como a da carreira de Clínica Geral, fazendo clara demonstração da importância dos CSP no desempenho do SNS), estudioso e atento à problemática da saúde, e, apesar de tanto, pronuncia-se com surpreendente ligeireza PPP à portuguesa (6), de 29.02.2008, (link) sobre um tema que é muito complexo, como bem sublinha o Xavier: “O modelo PPP é demasiado complexo e de elevado risco. Mesmo para os privados”. Desde já, parece-me de registar a parte final desta afirmação do Xavier porque o que temos visto sistematicamente referido no Saudesa é que todo o risco fica com o Estado, embora não seja o que pode concluir-se pela análise dos cadernos de encargos. Quanto à complexidade do modelo, lá iremos mais adiante.
1. - Antes, vejamos por que acuso de surpreendente ligeireza a abordagem de PM. São várias as razões, mas podem resumir-se dizendo que deixa a convicção de que não conhece suficientemente o projecto das Parcerias para sobre ele poder opinar com a segurança que se esperaria de quem, como PM, no Governo e no seu partido, ocupou posições tão importantes. De facto, parece-me que não pode ignorar:
˜ que a Lei de Bases da Saúde foi aprovada pela AR, com maioria absoluta do seu partido, sendo nela que se apoia a flexibilização da gestão dos serviços de saúde;
˜ que foi celebrado por Governo do seu partido o contrato de gestão do Hospital Fernando da Fonseca (AS) – que, quanto ao essencial, difere dos contratos para os HH-PPP porque o Estado entregou o hospital já construído (se fez bem ou mal, não é o que agora interessa) –;
˜ que pelo menos os dois últimos Governos do seu partido tiveram papel relevante na preparação e lançamento do projecto de HH-PPP;
˜ que o regime dos HH-PPP não os exclui do SNS nem da vinculação a todas as suas normas de funcionamento, o que não permite que sejam equiparados pura e simplesmente aos HH privados, como PM parece fazer na sua exposição;
˜ que a definição de um hospital passa pelo estudo de necessidades, pela elaboração de um programa e de um projecto, pela aquisição e instalação de equipamentos e, o que não é o menos, pela implantação de uma organização, e que todo este processo, mesmo quando, ou talvez porque, atabalhoado, tem exigido anos em excesso (PM sabe-o como ninguém; costumava lamentar que, na AP, 6 meses, são a unidade mínima de tempo para decisão de questões de baixa complexidade porque, se esta for maior … );
˜ que esta realidade (construa o hospital quem o construir), e as suas afirmações de que ”a Medicina hospitalar e as suas necessidades evoluem com a rapidez de semestres, se não de semanas”, “que sentido têm contratos assinados quando é lançada a primeira pedra?” não podem levar a nada fazer, à espera da última moda, mas sim à procura e à promoção da flexibilidade máxima das instalações para que, com alterações mínimas, quando necessárias, possam dar a resposta em cada tempo pedida;
˜ que parceiro e sócio correspondem a coisas diferentes, não havendo a promiscuidade ou falta de transparência que refere, como teria visto se, efectivamente, tivesse acedido a melhor informação sobre o projecto dos HH-PPP;
˜ e, por último, que os HH-PPP correspondem, a final, ao que PM propõe: “Se é necessário um hospital e se o sector privado está interessado em construí-lo, deve ser incentivado a fazê-lo por sua conta e risco, com a garantia de que o SNS será seu cliente, exigente e atento”. Quanto à exigência e atenção necessárias, quem poderia defender o contrário?
2. - Custa-me, de facto, pela consideração que me merece, ver PM alinhar no coro de protestos contra os HH-PPP, a partir de simples pressupostos gratuitos ou viscerais, assumidos sem fundamentação ou quando muito fundamentados na não consideração de exigências e de condições expressas e concretamente inseridas nos cadernos de encargos dos concursos que foram abertos. Não consigo compreender que, estando do lado do Estado a plenitude dos poderes de definição do contrato e da enumeração dos riscos que os concorrentes têm de assumir para poderem ser admitidos aos concursos, se afirme depois que ”o parceiro privado não tem nenhum risco no processo e tem toda a liberdade de reivindicação e de modificação de contratos porque é inevitável a perpétua mudança das necessidades”. Nestas condições, só me parece honesto dizer que i) o parceiro privado tem os riscos que o Estado quis que ele assumisse e se os não assume, deve ser excluído; ii) que o seu lucro será definido pela concorrência, dentro do quadro traçado no caderno de encargos (fixação pelo Estado do Custo Público Comparável, podendo excluir as propostas que o excedam); iii) que as modificações de contratos serão apenas as que o Estado entender razoáveis e, por isso mesmo, permitir (restando-lhe sempre a possibilidade de rescisão por incumprimento ou de resgate do contrato a todo o tempo e por simples invocação de conveniência). Mas, perante a “inevitável e perpétua mudança das necessidades”, invocada por PM para o parceiro privado justificar a modificação de contratos, gostaria que alguém me dissesse como deve reagir o Estado, quer em relação aos HH-PPP quer aos restantes, porque o problema põe-se nos mesmos termos: deve manter serviços desnecessários e práticas obsoletas ou deve adaptar-se e renegociar, em termos correctos, o que houver a negociar?
3. - Conheço a fábula da rã que se disponibilizou para salvar o lacrau, carregando-o no seu dorso, e que acabou picada por ele porque picar estava nos seus genes. Sei que os concorrentes privados visam maximizar o lucro, mesmo estando em causa actividades de saúde, o que obriga o Estado a usar de todas as cautelas para defesa do interesse público. Mas, como se faz a defesa do interesse público, ou do SNS, ou seja, do muito de bom que deve ser considerado conquista do SNS e que não deve perder-se? Pela manutenção cega do imobilismo e de tudo aquilo que, de forma lapidar, o Brites nos recorda Conhecer a culpa, de 13.03.2008 (Link), através de citações de insuspeitos e reputados técnicos do MS? Será possível dizer não à reforma do SNS, mantendo tudo como está, num contexto em que mudaram todas as realidades, tanto as do âmbito da saúde e das tecnologias disponíveis como as do contexto envolvente?
LFP e CC empenharam-se na reforma da gestão hospitalar (contratos programa anuais, lei de gestão hospitalar, reforço da autonomia de gestão – HH-EPE e HH-SA, HH-PPP, tendência para o financiamento exclusivamente pela remuneração da actividade contratada… –. Diria mesmo que a sua intervenção nesta área se caracterizou mais pela continuidade do que pela oposição, embora me pareça que CC foi estrategicamente mais abrangente. Como refere o Brites, a ambos foi atribuída a "intenção de prejudicar o SNS, por terem uma agenda oculta de abrir “avenidas para os privados” mesmo que as insuficiências do SNS pelas quais, e não por outras inconfessáveis razões "o sector privado está a abrir caminho na saúde” lhes sejam muito anteriores. Porém,
Como é que os HH-PPP se inseriam na sua estratégia? Quais os objectivos esperáveis das Parcerias? Poderíamos falar de aspectos como a antecipação do financiamento pelos parceiros privados e, sobretudo da defesa da margem de endividamento público permitida pelo PEC. Parece-me, no entanto, que isso são cascas e o que, efectivamente, valerá a pena será referir a promoção da eficiência do SNS, sem sacrificar a qualidade da intervenção.
Como nos lembra o Brites, a situação vinha de trás e estava diagnosticada: ”A actividade desenvolvida é normalmente inferior à que a dotação de recursos permitiria esperar (fraca eficiência global)“ (“O Hospital Português”, publicação da DGS, de 1998), e,
“O grande desafio é conseguir uma gestão profissional do SNS. Isto é um edifício com 110 mil pessoas, que gasta cerca de mil milhões de contos por ano, que tem 1500 dirigentes”. ”Os dirigentes têm de ter uma missão explícita e tem que haver uma cadeia de responsabilização que controla o cumprimento. E isso puramente não existe no SNS. É zero.” (Constantino Sakellarides, também citado pelo Brites).
A promoção da eficiência do SNS passa, no entanto, por muitas outras coisas, como o estatuto dos profissionais com tudo o que nele deve abranger-se, a existência de sistemas de informação adequados que permitam a articulação das áreas de intervenção evitando o desperdício de trabalho, de exames e de terapêutica (continuidade na prestação dos cuidados), a exigência de uma nova cultura porque a existente ”não tem estimulado nem gestores nem os profissionais a aumentarem a racionalidade da sua actuação (“O Hospital Português”, publicação da DGS, de 1998) e, além disso, deve ser conseguida sem sacrificar a qualidade da intervenção. Ou seja, a dificuldade e os custos (em sentido amplo) da intervenção necessária não precisam de ser destacados; basta olhar alguns dias para trás, mesmo sem chegar à substituição de CC.
Se a gestão pública não conseguiu, ou, pelo menos, não conseguiu satisfatoriamente, esse objectivo ao longo de 30 anos, o projecto HH-PPP deve então ser visto como um duplo desafio:
˜ à gestão e à iniciativa privada, e às virtualidades da concorrência, chamadas a demonstrar que, sem sacrificar a qualidade da intervenção e aceitando o acompanhamento constante do desempenho e o controlo do Estado, é possível encontrar e por no terreno formas de cumprir as obrigações do SNS com aumento de eficiência e da satisfação dos utentes e dos profissionais;
˜ à gestão pública, que, se os HH-PPP tiverem êxito, só pode aspirar a manter-se na gestão hospitalar demonstrando ser capaz de libertar-se do condicionalismo que a tem amarrado a níveis de eficiência inaceitáveis e, porventura, incomportáveis perante o crescimento previsível dos custos da saúde. E para que o consiga será necessário que profissionais e gestores aceitem mudanças às quais actualmente se opõem, assim como não será dispensável que o Governo intervenha nos pontos que se situam na sua estrita competência.
4. – Referi, de início, a complexidade do Projecto HH-PPP e não vou negar que tenho respeito, para não dizer medo, da picada do lacrau. Penso até que, apesar do bom trabalho da Unidade de Missão na preparação da documentação dos concursos (o que não exclui críticas em pontos concretos), o MS avançou no processo com excessiva afoiteza e talvez com alguma credulidade. O processo requer, para se ter a certeza exigível de que se desenvolverá com sucesso, que o MS disponha de sólida capacidade de controlo e de avaliação e esta tem sido, efectivamente, uma das áreas em que tem transparecido a sua fragilidade. Como exemplos, recordemos os 39 pontos da rede de SU que se transformaram em 73 sem que ninguém tenha dado por isso, pois que todos foram financiados sem problemas, apesar da sua “clandestinidade”; ou o reduzido número de HH-EPE – apenas 4 no total de 35 – que até Julho de 2007, tinham entregue documentação prevista e obrigatória na prestação de contas de 2006, o que não revela muita atenção e exigência no acompanhamento dos processos. De avaliação nem falemos porque nada transpareceu. Poderá dizer-se que os cadernos de encargos referem genericamente os pontos a avaliar e a faculdade de a Parte Pública Contratante (PPC) poder exigir as informações que se revelem necessárias, em muitíssimos casos já definidas concretamente, e que à Parte Privada foi deixado o ónus de conceber e apresentar um sistema de informação que responda a todas as exigências. O que é verdade mas, além de outros aspectos (como a garantia de compatibilidade directa com o sistema de informação no âmbito de todo o SNS, que a informação precisará de ser comparada!), não afasta o princípio de que ninguém domina a informação como quem a gera, concebe e lhe define os processos de recolha e de tratamento. Percorrendo a informação todo, absolutamente todo, o périplo da problemática hospitalar e indo mesmo para além dos seus limites, deveria ser uma área de cujo domínio a PPC não deveria abrir mão. De igual modo, deveria ser posto maior empenho no reforço da capacidade própria de controlo e de avaliação, até porque o recurso a consultores externos não deixa de representar um risco adicional de promiscuidade e falta de isenção, tendo, inclusive, merecido reparos na auditoria do TC. Definir, controlar e avaliar são responsabilidades próprias do SNS e que o MS não pode alienar. Todos o sabem e há muito tempo que o dizemos, não é assim?
Aidenos
PS:
É um ponto em que não deveria haver hesitações, por ser necessário avançar depressa. De qualquer modo já é de saudar o reconhecimento de MT, de que a Cotovia nos dá conta:
“O que falta
— Aumentar a capacidade técnica do Estado para gerir e avaliar os contratos;
— Alterar o paradigma de avaliação na óptica do processo para uma avaliação na óptica dos resultados”. (Comentário em HHsPPP, sem gestão clínica, de 15.03.2008)
Etiquetas: PPPs à Portuguesa 2